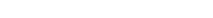Indispensáveis para garantir o sucesso do tratamento, as mulheres que cuidam de crianças com anemia falciforme – em geral, são mães, mas as avós assumem esse papel em alguns casos – ainda são esquecidas por quem elabora políticas públicas. A conclusão é do pesquisador Cristiano Guedes, que defendeu a tese de doutorado em Ciências da Saúde Anemia falciforme e triagem neonatal: o significado da prevenção para as mulheres cuidadoras, em 13 de outubro.
O objetivo da pesquisa de Cristiano era identificar como o diagnóstico e a prevenção da anemia falciforme impactam a vida das mulheres que cuidam das crianças doentes. A doença afeta as hemoglobinas e dificulta o transporte de oxigênio no organismo. “Apesar das mulheres ocuparem um papel central nos programas de triagem neonatal, elas são ainda insuficientemente consideradas como um público alvo a ser contemplado na elaboração de políticas de assistência social”, protesta.
O pesquisador ouviu 50 mães cujos filhos foram diagnosticados com a doença e encaminhados para atendimento no Programa de Triagem Neonatal do Distrito Federal. É a primeira vez que um estudo como esse é feito no Brasil. O DF é a 4ª unidade da federação com maior incidência de traço e anemia falciforme. O traço é a característica genética da doença, que incide sobre a população afrodescendente (preta e parda). Ter o traço não significa desenvolver a anemia.
Cristiano lembra que a doença exige dedicação intensa das mães. Elas precisam garantir uma dieta alimentar especial às crianças, controlar as brincadeiras e os exercícios físicos praticados por elas e zelar pela ingestão adequada dos remédios. Além da rotina puxada em casa, elas precisam levar as crianças para fazer tratamento nos hospitais constantemente. Por isso, elas acabam abandonando o trabalho.
“Elas abdicam da vida pessoal, profissional e ainda são cobradas pelo sucesso ou insucesso do tratamento. Não há nenhum benefício de seguridade social ou de trabalho destinado a elas”, ressalta. Sílvia Maria Gonçalves Coutinho, psicóloga do Hospital de Apoio, onde muitas crianças são tratadas, admite que é difícil fortalecer essas mães diante das dificuldades que enfrentam. “São problemas muito concretos”, observa.
IMPACTOS – A primeira constatação de Cristiano é que o diagnóstico é recebido com desconfiança pelas mães. Como é uma doença invisível, elas tendem a olhar os bebês aparentemente saudáveis e não acreditar no que diz o médico. “A desconfiança se dá porque elas não vêem os sintomas. As crianças têm de tomar penicilina a cada 21 dias, ter dieta especial e se consultar constantemente. Elas costumam achar muito agressivo”, comenta. Sílvia lembra que, como a doença é hereditária, elas ainda vivem o conflito de tentar encontrar “culpados” para a doença dos filhos.
A partir daí, essas mães precisam iniciar uma série de negociações com a família, a escola, os vizinhos. Até no transporte coletivo, em que as vítimas da anemia falciforme podem andar gratuitamente, elas necessitam dar explicações sobre a anemia. Sem sintomas, as pessoas tendem a não acreditar na doença. Nesse momento, elas vivem também um outro dilema: revelar ou não a própria identidade genética. “Muitas preferem escondê-la por medo do preconceito”, ressalta.
A compreensão da doença dá às mulheres um outro poder: o de decidir o futuro de sua vida reprodutiva. A professora Débora Diniz, orientadora de Cristiano, ressalta que as mulheres tendem a confrontar a informação sobre as chances de ter outro filho doente com a vontade de ser mãe novamente.
FILHOS – As que querem ter mais filhos tendem a minimizar os riscos. Por outro lado, as que não querem, tendem a maximizá-los. “Elas afirmam que os médicos deram essa orientação. Isso mostra que os serviços de saúde ainda têm de estar muito atentos na transmissão da informação”, afirma. Cristiano defende que falta formação específica para aconselhamento genético no país.
Gilvânia Praxedes, 37 anos, decidiu não ter mais filhos. Há nove anos, ela luta para dar qualidade de vida à Maria Antônia, de 10 anos. Ela teme que a doença se repita. “Sei que há chances de ser saudável, mas prefiro não arriscar”, conta. Gilvânia diz que a responsabilidade dela é enorme. Ela cuida em tempo integral da filha, enquanto o marido trabalha para sustentar a casa. “Minha família me apoia muito, mas quem faz tudo sou eu mesma”, diz. “É muito difícil viver com a incerteza de como ela vai acordar no dia seguinte.”
Teresinha de Jesus Guimarães, 35 anos, é mãe de quatro filhos. Mesmo conhecendo o diagnóstico do segundo filho, Ronigleison, que tem a anemia, ela teve outras duas crianças. Todas nasceram saudáveis. Ela, que sempre cuidou de crianças em casa, teve de abandonar a profissão. Para dar conta de custear as passagens de ônibus de Valparaíso de Goiás (lá, o menino não pode andar de graça no ônibus) até o Plano Piloto, onde ele faz o tratamento, Teresinha enfrentou diversos trâmites burocráticos no INSS. Mas conseguiu apoio para o filho e recebe um valor fixo por mês.
“É minha mão direita essa ajuda. Tenho vontade de continuar, mas não dá”, lamenta. Teresinha admite que ainda hoje, 14 anos após o nascimento do filho, às vezes duvida da intensidade da doença que ele possui. “A gente não vê nada. Só quando ele sente dor. É difícil demais".