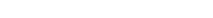Um dos símbolos mais fortes da culinária afro-brasileira, que desembarcou no Brasil junto com os escravos, está sendo descaracterizado. Originado nos cultos de candomblé, onde servia como uma oferenda à Oiá, ou Iansã, rainha dos raios e dos ventos, o acarajé hoje é um produto comercial que visa quase exclusivamente o lucro. Além disso, hoje pode ser feito por homens, algo incomum até pouco tempo atrás.
O assunto foi abordado na tese de doutorado defendida por Gerlaine Martini, do Departamento de Antropologia (DAN) da UnB. “O acarajé passou a ser vendido como um mero produto turístico. Antigamente era uma atividade tradicional e religiosa das baianas, muitas delas hoje convertidas à religião evangélica. O acarajé está iniciando um processo de industrialização”, afirma Gerlaine.
Embora o ofício seja secularmente feminino, aos poucos os homens adentraram nesse território. O fenômeno teve origem pela falta de herdeiras da tradição em uma empresa familiar de Salvador. Assim, as baianas autorizaram o primeiro representante masculino na tarefa, a fim de “inseri-lo no mercado de trabalho”, concessão que só ocorria em casos de morte de parentes mulheres na família, como avós, mães e filhas. Para o candomblé, é uma “transgressão”, uma vez que suas regras diferenciam os ofícios masculinos dos femininos.
Outro aspecto de mudança na tradição ocorre quando adeptas do candomblé se tornam protestantes. Mesmo professando uma nova crença, desejam manter sua fonte de renda. Para isso, decidem retirar todos os signos que liguem o quitute à religião africana, como a roupa branca, o turbante e as contas no pescoço. Desfiguram o ofício ao querer que o acarajé seja visto não como uma oferenda, mas apenas como uma refeição. Ou um fruto da terra, como dizem as baianas tradicionais.
Para completar, com o boom do turismo nas décadas de 1980 e 1990, a iguaria começou a ser vendida em barracas de praia, lanchonetes, supermercados e delicatessens, constituindo uma impessoalidade absolutamente contrária à figura da baiana que preparava o alimento artesanalmente, vestia suas roupas típicas e levava o tabuleiro para lugares que remetem aos “cantos”. Esses eram os locais onde os escravos vendiam produtos no período colonial, como meio de subsistência e de obter dinheiro para os centros religiosos.
PATRIMÔNIO - Foi nesse contexto que a Associação de Baianas de Acarajé e do Mingau do Estado da Bahia (Abam), o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá entraram com um pedido de inclusão do ofício das baianas do acarajé como patrimônio cultural - e do acarajé como bem imaterial - no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do Ministério da Cultura (Minc), concedido em 2004.
Somado a isso, a Prefeitura de Salvador criou o Decreto Municipal 12.175/1998 e outras portarias a fim de regulamentar a profissão da baiana do acarajé. A documentação estabelece regras para indumentária, padroniza o tabuleiro e estipula regras de higiene e manuseio.
Entretanto, ao mesmo tempo em que esse conjunto de decisões protege um saber antigo, também explicita a influência dos interesses políticos numa atividade que já havia se tornado vantajosa do ponto de vista econômico. “O governo já não pode mais abrir mão de interceder porque o acarajé se tornou uma fonte de renda, carregada de exotismo e que tem apelo para o marketing turístico. Por isso, se posiciona ao lado das baianas”, afirma.
PRECONCEITO - Nos primórdios da atividade na Bahia, as mulheres negras eram perseguidas pelos senhores e autoridades por serem adeptas do candomblé. Muitas eram acusadas de causar brigas e consideradas símbolo de atraso e falta de cuidados com o preparo do alimento. A visão dessa época parece ter permanecido, e tomou novos contornos a partir da recente polêmica sobre acarajés supostamente “contaminados”. “A higiene está ligada ao preconceito racial, mas agora elas possuem força para lutar, pois ganharam importância econômica”, esclarece a pesquisadora.
Se as flexibilizações de religião e tradição vão ou não fortalecer o quitute, somente o tempo mostrará. A pesquisadora, entretanto, confia no gosto do soteropolitano, que valoriza o autêntico acarajé, feito com feijão fradinho comprado na feira, frito na hora, recheado com camarão seco e preparado segundo as regras do candomblé, que oferece a Iansã os sete primeiros bolinhos, lançados na rua.