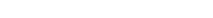Quando estagiava no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal, um caso de paciente que faleceu devido a uma micose específica chamou muito a atenção do discente de Biologia da Universidade de Brasília Bernardo Guerra. O estudante tinha à época cerca de 20 anos, mesma faixa etária do paciente, que foi diagnosticado com o vírus HIV e não resistiu à histoplasmose.
“A gente se deparou com o caso de um paciente de 26 anos que desenvolveu a Aids, e a gente encontrou leveduras de histoplasma na hemocultura dele. Soube depois que ele veio a óbito. Então, pode ser uma doença que, na maioria dos casos, é assintomática e passa despercebida, até porque não é notificada pela Secretaria de Saúde. Mas qualquer uma pessoa que morre já é uma família destruída”, avalia Bernardo, hoje com 26 anos e com uma filha de dois.
Atualmente no doutorado em Patologia Molecular da UnB, ele prepara um artigo científico justamente sobre histoplasmose, que será submetido a uma publicação estadunidense. As referências consultadas para o estudo desmistificam o que muitos, leigamente, acreditam: esta não é uma doença exclusiva do campo ou de cavernas, onde comumente hospedeiros como morcegos ou tatus acabam sendo portadores do fungo e potenciais transmissores.
“Em muitas das minhas referências, os autores falam que a histoplasmose está muito relacionada à urbanização, por conta do desmatamento – se tira o habitat dos morcegos, que vão acabar migrando para as cidades”, explica o estudante da UnB.
Com este fungo (Histoplasma) e com outros classificados como primários, como o Coccidioides ou o Paracoccidioides, conhecidos por provocarem doenças fúngicas sistêmicas, como a chamada “doença do tatu”, o ciclo da infecção ocorre de maneira semelhante.
O microrganismo cresce normalmente no solo ou em material de origem vegetal ou animal em decomposição; um bicho ou mesmo um ser humano que passe por ali e remexa a terra, provavelmente vai dispersar os propágulos dos fungos no ar e, por meio da inalação ao respirar, será contaminado. Uma vez dentro do organismo, o fungo se instala – geralmente no pulmão – e é capaz de sobreviver por muitos anos.

Não há na literatura casos de transmissão dessas doenças diretamente de uma pessoa para outra. Mas, no caso de tatus e morcegos, por exemplo, que costumam habitar tocas e cavernas, é bastante comum haver a constante infecção e reinfecção dos bichos que ali vivem, pois a contaminação também pode ocorrer por meio das fezes do hospedeiro – ao serem depositadas no solo, levam o fungo novamente ao seu habitat originário e ali ele se reproduz novamente até encontrar novos hospedeiros.
“Os aspectos físico-químicos de tocas e cavernas (umidade estável, baixa ou total ausência de luminosidade, presença elevada de fósforo e nitrogênio) favorecem o desenvolvimento desse microrganismo”, ensina Marcus Teixeira, professor do Núcleo de Medicina Tropical da UnB.
Ele chama atenção para o ecoturismo, que é permitido no país e pode levar os visitantes das cavernas a contraírem a histoplasmose se não houver uma indicação prévia de onde os fungos estão.
“Sabemos hoje que a visitação de cavernas, construções abandonadas e minas são um problema sério. É recomendado o uso de máscara N95 (a mesma que usamos para a manipulação da forma filamentosa do fungo) para evitar os esporos, mas é muito importante também você saber qual caverna que tem mais possibilidade de exposição ou não àquele fungo. Eu acredito que na maioria das cavernas onde se tem morcego, vai ter fungo”, afirma.
Segundo o docente, as infecções causadas por estes microrganismos são comumente assintomáticas ou exibem um padrão que pode ser confundido com qualquer infecção pulmonar ou mesmo uma gripe.
“Pode ser uma simples gripe ou pode desenvolver uma pneumatologia. O paciente pode ter febre, dificuldade respiratória por sete a 14 dias e, na maioria das vezes, ocorre a cura espontânea. Mas isso pode perdurar a vida toda dele, e se tiver alguma imunodeficiência ou alguma doença crônica de base, ele pode vir a óbito por causa desse fungo”, alerta Marcus.
Publicações científicas internacionais comprovam a força e a potência do Histoplama: a doença por ele causada mata tanto quanto a tuberculose, ou mais.
“Isso não só no Brasil, mas na América Latina. Essa alta mortalidade tem se observado em pacientes imunossuprimidos e, principalmente, com Aids”, reforça o professor.

DIAGNÓSTICO – Para saber se está contaminado por algum fungo, é necessário realizar exames em laboratórios específicos de micologia (em Brasília, por exemplo, há Lacen, HUB, Hran ou outros particulares). Ali, vão analisar amostras de pele, mucosa, tecidos ou até mesmo de fluidos do revestimento do pulmão, obtidos por meio de lavado broncoalveolar (procedimento cirúrgico para coleta desta amostra), e escarro para, então, isolar esse fungo e fazê-lo crescer em meio de cultura. Outras técnicas como sorologia ou imunodiagnóstico também são utilizadas e, mais recentemente, têm-se desenvolvido diagnósticos moleculares.
“Os fungos da família Onygenales (Paracoccidioides, Histoplasma, Coccidioides) são facilmente confundidos com pneumonias virais e bacterianas. Se você não tem um diagnóstico muito bem feito de uma pneumopatologia primária, e trata isso com antibacteriano ou antiviral, não vai fazer efeito num fungo. As drogas certas são os antifúngicos”, ensina Marcus Teixeira.
O professor ressalta que tratamentos prolongados com antibióticos podem gerar resistência não desejada de bactérias e, além disso, permitem que o fungo continue se proliferando. Por isso, ele defende o diagnóstico precoce.
TRATAMENTO – Hoje ainda não existem vacinas para micoses e o espectro de antifúngicos é limitado e muito menor que o de antibacterianos, por exemplo.
“Infelizmente tem pouco investimento no desenvolvimento de vacinas e de antifúngicos, porque é uma doença que acomete principalmente o trabalhador rural e de baixa renda e desenvolver vacinas pode envolver milhões em investimentos. Existem algumas propostas de vacinas em andamento, mas realmente há uma falta de incentivo, o que torna isso algo bem distante do ideal”, declara Marcus Teixeira, que também é vinculado à Universidade do Norte do Arizona (NAU), nos Estados Unidos.
Ele conta que a Universidade de Brasília é pioneira, em parceria com outras instituições, no entendimento da diversificação de patógenos fúngicos primários, sejam eles pulmonares, como os mencionados acima, ou de infecção traumática, como a esporotricose, causada pelo fungo Sporothrix – muito comum em cães e gatos que vivem em locais de saneamento básico precário.
Nos últimos dez anos, na UnB, estudos ambientais foram intensificados com as saídas de campo e investiu-se também no aprimoramento das técnicas de biologia molecular para a detecção desses patógenos. Com o sequenciamento genético dos microrganismos, pode-se estudar novas medicações e possíveis antígenos que sejam eficazes no diagnóstico, no tratamento ou na profilaxia de micoses.
“Já tivemos projetos financiados pelo CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] e hoje temos um grande projeto na FAP-DF [Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal] para compreender, por exemplo, a questão dos morcegos, que sabemos que é um excelente hospedeiro de patógenos relevantes para a saúde pública. E há alguns projetos nos Estados Unidos, também financiados, em que temos colaboração para poder entender um pouco sobre a diversidade desses patógenos num ambiente estadunidense, mas que vamos tentar trazer para poder estudar também aqui no Brasil e na América do Sul”, conta o professor.

Hoje a Universidade de Brasília terceiriza o serviço de sequenciamento genético dos patógenos, pois as técnicas utilizadas ainda são bastante caras para os padrões brasileiros. Com isso, a UnB envia as amostras para fora do país e já recebe os dados prontos para serem analisados no computador.
“Temos capacidade de fazer a detecção molecular aqui e extrair o DNA do fungo, do solo, da toca, das fezes dos morcegos. Não temos condição de fazer o sequenciamento dos genomas aqui, porque o preço de fora é absolutamente mais barato e competitivo. E assim conseguimos fazer mais amostras com menor custo”, pontua Marcus Teixeira.
O professor lembra que os estudos genéticos são importantes por vários motivos. Entre eles, para tentar entender a variabilidade genética dos fungos a fim de melhorar os diagnósticos e de tentar produzir um antígeno que tenha eficiência no diagnóstico destas micoses em todo o país. Outra razão é para compreender a diversidade dos patógenos existentes hoje e suas características, que podem ter consequência clínica de diagnóstico ou de tratamento. Por fim, para auxiliar no entendimento da distribuição espacial das espécies, por meio de marcadores genéticos.
MAPEAMENTO – E é nesta linha de estudos que está o mestrando em Biologia Molecular Lucas Alves. Ele teve oportunidade de lidar com cerca de 300 amostras de solo coletadas pelo professor Marcus Teixeira, junto a outros pesquisadores, em tocas de tatu localizadas no Nordeste do Brasil. Por meio da detecção do DNA dos fungos existentes nas amostras, o objetivo do estudante é mapear onde estão presentes os principais responsáveis pela chamada “doença do tatu”: o Paracoccidioide e o Coccidioide.
"Esse projeto tem como objetivo ver a distribuição desses fungos utilizando técnicas moleculares (extraímos o DNA e queremos fazer a detecção dos patógenos). Com isso, pretendemos fazer uma correlação com dados históricos já publicados de casos clínicos para fazer o mapeamento, para correlacionar com os dados ambientais”, explana.
“A coccidiomicose é uma doença endêmica de áreas semi-áridas, enquanto a paracoccidiomicose é mais distribuída em todo território brasileiro. Só que não sabemos a distribuição delas, nem muito menos onde elas se sobrepõem no ambiente. Então esse é o objetivo”, detalha Lucas.
De acordo com seu orientador, o professor Marcus Teixeira, as regiões Norte e Nordeste do Brasil têm alta taxa de pneumonias adquiridas sobretudo nos municípios do interior, que não têm diagnóstico fechado e os pacientes acabam tratados com antibacterianos, prolongadamente e em vão.
“Muita gente morreu exatamente por falta de diagnóstico, tratando como tuberculose há anos. A pessoa nunca cura destas micoses profundas, morre. No Brasil e em muitas regiões do mundo, principalmente de baixo desenvolvimento, quando não se tem ferramentas de diagnóstico muito específicas, se trata empiricamente, e isso é um problema seríssimo – não só para a qualidade de vida do paciente, mas também porque você pode criar uma bactéria super resistente. Isso é muito ruim”, arremata o docente.
A UnB tem parceria com universidades americanas que pretendem implementar um teste diagnóstico no interior do Nordeste para auxiliar no tratamento de paracoccidiomicose. A iniciativa, no futuro, deve ser apresentada ao Ministério da Saúde como oportunidade para investir no desenvolvimento de antígenos para a detecção destas doenças.